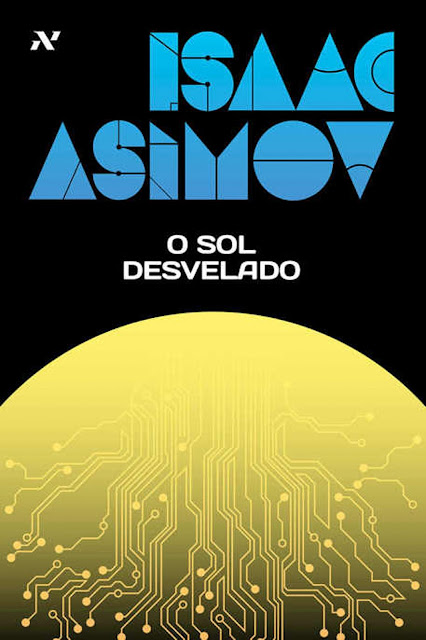Sonhos de Robô por Isaac Asimov
INTRODUÇÃO
A
ficção científica nos proporciona alguns tipos muito peculiares de satisfação
pessoal. Quando se tenta descrever o possível desenvolvimento futuro da
tecnologia, pode-se acabar chegando muito perto da verdade. Se você vive
bastante tempo depois de escrever uma determinada história, pode acabar tendo o
prazer de verificar que suas previsões eram razoavelmente exatas e ver-se
saudado como uma espécie de profeta.
Isto
me aconteceu no que diz respeito aos meus contos sobre robôs, dos quais
"Verso de Luz" (incluído neste livro) é um exemplo.
Comecei
a escrever histórias sobre robôs em 1939, quando tinha apenas dezenove anos.
Desde o início os visualizei como máquinas cuidadosamente construídas por
engenheiros e providas de mecanismos internos de segurança que denominei
"As Três Leis da Robótica". (Desse modo eu me tornei a primeira
pessoa a utilizar a palavra "robótica" num texto impresso; isso
ocorreu no número de março de 1942 da revista Astounding Science Fiction.)
O
fato é que nenhum tipo de robô pôde ter utilidade prática até meados da década
de 70, quando os micro chips entraram em circulação. Somente então tornou-se
possível produzir computadores suficientemente pequenos e baratos - ao mesmo
tempo que eficientes e versáteis - para controlar um robô a um custo viável.
Dispomos
hoje de máquinas industriais a que chamamos robôs, controladas por computador.
Essas máquinas destinam-se cada vez mais a executar tarefas simples e
repetitivas nas linhas de montagem - soldar, perfurar, polir etc. - e sua
importância em nossa economia é cada vez maior.
Os
robôs são hoje objeto de estudo de uma ciência específica, que recebe o nome
criado por mim - a Robótica.
Claro
que estamos apenas no início da revolução robótica. Os robôs que utilizamos
hoje não passam de ferramentas computadorizadas, ainda muito longe de atingir a
complexidade necessária para que possamos aplicar-lhes as Três Leis. Ao mesmo
tempo, sua aparência física nem de longe lembra a de um ser humano, porquanto
não são ainda os "homens mecânicos" que descrevi em minhas histórias
e que já apareceram inúmeras vezes no cinema.
Ainda
assim, é possível ver com clareza as tendências principais de sua evolução. Os
robôs primitivos que hoje fazem parte de nossa realidade não são os
"monstros de Frankenstein" que se apregoava nas histórias primitivas
da ficção científica. Eles não ameaçam a vida humana (embora acidentes
envolvendo robôs possam resultar em mortes, como ocorre em acidentes envolvendo
automóveis ou instalações elétricas). São, ao invés disso, instrumentos
cuidadosamente programados para poupar aos seres humanos a execução de tarefas
árduas, repetitivas, perigosas e embrutecedoras, de modo que o propósito e a
filosofia que inspiram sua criação são os primeiros passos na direção dos robôs
que concebi em minhas narrativas.
Os
próximos passos deverão representar um avanço nessa mesma direção. Algumas
empresas já estão trabalhando em projetos que deverão ter uma aparência
vagamente humana: serão "robôs domésticos", a quem caberá a execução
de tarefas tradicionalmente destinadas aos criados.
O
resultado de tudo isto é que hoje desfruto de um invejável prestígio entre as
pessoas que efetivamente trabalham no campo da Robótica. Em 1985, foi lançada
uma volumosa enciclopédia intitulada Handbook of Industrial Robotics (publicada
pela John Wiley e coordenada por Shimon Y. Nof), para a qual escrevi uma
introdução a pedido dos editores.
É
claro que, para poder confirmar a exatidão das minhas previsões, precisei
manter-me vivo por um bocado de tempo. Minhas primeiras histórias de robôs
apareceram em 1939, como já disse, e tive que viver por mais quarenta anos para
poder ver-me como "profeta". Por ter começado muito cedo e ter tido
sorte bastante para sobreviver até hoje, isso se tornou uma realidade para mim.
Não tenho palavras para descrever o quanto esta experiência é gratificante.
Na
verdade, levei minhas previsões sobre o futuro da Robótica às últimas
consequências em minha história "A Última Pergunta", publicada em
1957. Tenho uma leve impressão de que, caso a raça humana sobreviva, é mais ou
menos nessa direção que ela evoluirá. Mas nossa capacidade de sobrevivência é
limitada, e não terei oportunidade de verificar no futuro muita coisa quanto ao
desenvolvimento dessa tecnologia. Terei que me contentar com a esperança de que
as gerações vindouras possam testemunhar e aplaudir o acerto dessas outras
predições que formulei. Quanto a mim, não estarei mais aqui.
Os
robôs, entretanto, não são a única área em que minha bola de cristal se revelou
eficiente. No meu conto "O Estilo Marciano", publicado em 1952,
descrevi de modo razoavelmente fiel uma caminhada no espaço, embora esse feito
só viesse a ser praticado quinze anos mais tarde. Antever um passeio no espaço
não é, com certeza, uma façanha profética das mais notáveis, concordo - uma vez
que se admita a existência de espaçonaves, todo o resto se torna inevitável. No
entanto, descrevi também os efeitos psicológicos de um tal passeio, inclusive
um bastante insólito... pelo menos para mim.
Entendam:
eu sofro de acrofobia, e tenho verdadeiro pavor de alturas, o que me dá plena
certeza de que nunca entrarei numa espaçonave por vontade própria. Mas, mesmo
admitindo-se a hipótese de que eu fosse arrastado à força para dentro de uma,
tenho certeza de que ninguém conseguiria obrigar-me a flutuar do lado de fora
dela.
Ainda
assim, consegui pôr de lado os meus medos e imaginei que um tal passeio seria
capaz de produzir euforia. Fiz com que meus astronautas se pusessem a brigar
pelo direito de sair da nave e flutuar em paz no meio das estrelas. E quando os
passeios no espaço se tornaram uma realidade, os astronautas experimentaram
esse tipo de euforia.
Em
meu conto "A Sensação de Poder", publicado em 1957, lancei mão de
computadores de bolso, cerca de dez anos antes de tais computadores se tornarem
realidade. Cheguei mesmo a considerar a possibilidade de eles contribuírem para
que as pessoas acabassem perdendo a capacidade de fazer operações aritméticas à
maneira antiga. Atualmente essa é uma das grandes preocupações dos educadores.
Mais
um exemplo: em meu conto "Sally", publicado em 1953, descrevi carros
computadorizados que chegam quase ao estágio de criaturas dotadas de vida
própria. Nos últimos anos têm aparecido automóveis controlados por computador
que podem até mesmo falar com o motorista, embora as funções que são capazes de
executar ainda sejam bastante simples.
Todavia,
se a ficção científica nos dá o prazer de ver confirmadas algumas das nossas
previsões, também nos faz experimentar a sensação oposta. Ela proporciona aos
seus escritores certos constrangimentos que não se verificam em nenhum outro
tipo de literatura. Evidentemente, se às vezes nossas previsões estão corretas,
podem também estar equivocadas, e muitas vezes isso se dá de um modo bastante
embaraçoso.
Tal
embaraço torna-se particularmente visível quando nossos contos são reeditados
em coletâneas como esta. No caso de um autor que começa a escrever ainda muito
jovem, vive uma vida normal (como parece ser o meu caso) e escreve sem parar, é
possível que uma coletânea deste tipo inclua histórias que foram escritas há
trinta ou quarenta anos, e onde os eventuais defeitos da bola de cristal se
tornam mais evidentes.
Comigo
isso acontece relativamente pouco, porque há uma série de fatores que agem a
meu favor. Em primeiro lugar, tenho uma boa formação científica, não é muito
provável que eu cometa erros no que se refere a verdades científicas básicas.
Depois, costumo ser muito cauteloso em minhas previsões, pois não tenho o
hábito de ficar especulando a ponto de ir de encontro aos princípios
científicos.
No
entanto, a ciência está sempre avançando, às vezes produzindo resultados
totalmente inesperados em poucos anos, o que pode deixar um escritor (inclusive
eu próprio) num beco sem saída, cheio de fatos que perderam a validade. Minha
pior experiência desse tipo foi com uma série de romances de ficção científica
destinados ao público jovem, que escrevi entre 1952 e 1958. Esta série
descrevia sucessivas aventuras de meus heróis em vários planetas do sistema
solar, e em cada caso descrevi o planeta exatamente de acordo com o que a
ciência sabia a respeito de cada um naquela época.
Infelizmente,
foi exatamente nessa época que se desenvolveu a astronomia baseada em
microondas, e logo depois começamos a enviar sondas para o espaço. O resultado
disso é que nosso conhecimento do sistema solar sofreu um enorme avanço,
começamos a aprender fatos novos e inesperados a respeito de cada um desses
planetas.
Por
exemplo, em minha descrição de Mercúrio em Lucky Starr and the Big Sun of
Mercury, coloquei o planeta com uma face eternamente voltada para o sol, como
os astrônomos imaginavam então, o que era um detalhe essencial para o enredo.
Agora, no entanto, sabemos que Mercúrio executa uma rotação muito lenta e que
cada porção de sua superfície acaba sendo iluminada pelo sol durante um certo
tempo. Não existe o "lado escuro".
Em
minha descrição de Vênus em Lucky Starr and the Oceans of Venus, falei de um
imenso oceano que recobria toda a superfície do planeta, o que àquela época
parecia possível. Era, do mesmo modo, um elemento indispensável ao
desenvolvimento do enredo. Hoje, entretanto, sabemos que a temperatura na
superfície de Vênus está muito acima do ponto de ebulição da água, o que torna
totalmente impossível a existência de um oceano ou até de uma simples gota de
água na superfície do planeta.
No
que se refere a Marte, em meu livro David Starr: Space Ranger, fiz o possível
para que minha descrição fosse exata em inúmeros aspectos. Mesmo assim, não
tinha conhecimento dos grandes vulcões extintos descobertos em Marte quinze
anos depois da publicação do livro. Além disso, referi-me aos canais secos deste
planeta, e foi provado que esses canais não existem; utilizei também marcianos
inteligentes, sobreviventes de uma civilização extinta que habitava a
superfície - algo extremamente improvável em termos reais.
Júpiter
e seus satélites apareceram em Lucky Starr and the Moons of Jupiter, e embora
eu tenha sido muito cuidadoso ao descrever todos estes mundos, é claro que
acabaram me escapando vários aspectos que só seriam descobertos pela ciência
vinte anos mais tarde. Não fiz nenhuma referência às geleiras que recobrem
Europa, ou aos vulcões em atividade que existem em Io. Não mencionei o enorme
campo magnético de Júpiter. Do mesmo modo, em Lucky Starr and the Rings of
Saturn, não me referi a alguns aspectos bem interessantes dos anéis e do
sistema de satélites de Saturno.
O
único livro da série que permaneceu intacto (cientificamente falando) foi Lucky
Starr and the Pirates of the Asteroids.
Por
sorte existe uma solução para este tipo de problema. A honestidade é a melhor
política, e quando a série de Lucky Starr foi reeditada nos anos 70 insisti em
acrescentar notas explicativas, indicando em que pontos as informações sobre
astronomia tinham sido superadas. Os editores tiveram de início uma certa
relutância, mas expliquei que não achava correto passar uma informação errada
para um jovem leitor desinformado - ou, no caso de um jovem leitor bem
informado, dar-lhe a impressão de que o desinformado era eu. Inseri as notas,
portanto, e fico satisfeito em afirmar que isso não trouxe nenhum prejuízo às
vendas.
Nenhum
dos contos que formam esta coletânea foi tão abalado cientificamente quanto as
aventuras do pobre Lucky Starr; mas algumas advertências devem ser feitas.
Em
primeiro lugar, há um detalhe que me escapou apesar de ser (visto em
retrospecto) bastante óbvio, e pelo qual venho me recriminando nos últimos dois
anos.
Em
"O Estilo Marciano", o mesmo conto onde aparece minha bem-sucedida
descrição de um passeio espacial, fiz com que meus personagens se aproximassem
de Saturno e chegassem a penetrar no seu sistema de anéis. Ao fazer isto,
descrevi esses anéis cuidadosamente, utilizando todas as observações que haviam
sido feitas a partir da superfície da Terra.
Bem...
da superfície da Terra, cerca de 800 milhões de milhas de Saturno, vemos os
seus anéis sólidos e maciços, a não ser pela linha negra da Divisão de Cassini,
que parece dividi-los em dois. A porção dos anéis que fica mais próxima à
superfície do planeta é consideravelmente mais embaçada do que o restante e em
geral considerada como um terceiro anel (o "anel de crepe"). Foi
assim que descrevi os anéis, vistos pelos olhos dos astronautas do meu conto.
No entanto, parece óbvio (ou pelo menos parece óbvio agora) que se pudéssemos
ver o sistema de anéis a curta distância o observaríamos com muito maior
precisão de detalhe. Veríamos divisões - faixas onde há menos partículas em
órbita, ou seja, veríamos linhas mais difusas separando linhas mais brilhantes,
divisões que seriam simplesmente impossíveis de ver a grande distância. Os
telescópios situados na superfície da Terra misturariam essas linhas e seriam
capazes de registrar apenas a mais larga das faixas de pouco brilho - a Divisão
de Cassini.
Quanto
mais próximos estivéssemos, mais numerosas e delgadas se revelariam as linhas
brilhantes, e cada vez maior seria a visibilidade, até que, quando atingíssemos
um ponto de máxima proximidade, onde ainda nos fosse possível ter uma visão de
conjunto dos anéis, eles nos apareceriam como os incontáveis sulcos de um LP -
e é justamente com isso que eles se assemelham.
Suponhamos
que eu tivesse pensado nisso em 1952 e tivesse descrito os anéis desse modo.
Mesmo omitindo elementos como os "raios" escuros que cortam os anéis,
ou os "anéis trançados", coisas que seriam impossíveis de prever,
teria sido notável se eu tivesse imaginado essa divisão tão detalhada. Era algo
fácil de deduzir, e, se naquela época eu tivesse descrito os anéis dessa
maneira, não me seria muito difícil anunciar, depois que eles tivessem sido
examinados de perto, que eu havia antecipado isto que acabava de ser
descoberto. (Vocês pensam que a modéstia me impediria de falar? Não sejam
idiotas.) Teria sido maravilhoso.
Do
jeito que ficou, minha incapacidade de prever esse aspecto compromete minha
inteligência, e está tudo lá, para quem quiser ver, em "O Estilo
Marciano". Está bem, nenhum astrônomo sabia a verdade sobre os anéis em
1952, e daí? Um astrônomo é apenas um astrônomo, e sua visão das coisas é inevitavelmente
limitada. Eu sou um escritor de ficção científica, de mim esperam-se resultados
bem melhores.
Há
outra coisa. Às vezes, quando eu previa algo com exatidão, ou quando previa
algo que poderia revelar-se exato algum dia, geralmente projetava essa
descoberta para um futuro excessivamente distante. Concordo que com os robôs
isso não aconteceu, pois minhas primeiras histórias indicavam que eles
começariam a aparecer nas décadas de 1980 e 1990, o que não está nada mal.
No
entanto, o que me dizem dos carros computadorizados de "Sally" e dos
computadores de bolso de "A Sensação de Poder"? Tive a cautela de não
arriscar uma data exata para essas descobertas. (Posso ser estúpido, mas não
sou tão estúpido assim.) No entanto, fica evidente, para quem lê as histórias,
que estas são descobertas de um futuro remoto - e no entanto elas estão aqui
hoje, e eu vivi o bastante para vê-las e para ficar embaraçado diante da minha
falta de fé na engenhosidade humana.
Meu
conto "Os Incubadores" aborda, em parte, o desenvolvimento de
técnicas de defesa contra a bomba atômica. Ele foi publicado em 1951, e, embora
eu não o situe numa época específica, a impressão que ele dá é a de que aqueles
acontecimentos têm lugar num futuro próximo, talvez poucos anos depois de 1951.
Eu estava claramente errado nesse aspecto, porque a discussão real sobre esse
tipo de defesa não teve início senão depois de 1980.
E
o que é mais: minha noção de um sistema de defesa era puramente estática - a
criação de um campo de força formando um escudo forte o bastante para resistir
até mesmo a uma explosão nuclear (a história, a propósito, foi escrita antes da
invenção da bomba de hidrogênio). Hoje, quando consideramos a possibilidade de
uma defesa nuclear, pensamos numa defesa ativa. A discussão hoje é sobre o uso
de raios laser controlados por computadores para alvejar mísseis balísticos
intercontinentais logo depois de seu lançamento, quando eles estiverem cruzando
a atmosfera. Para ser franco, não creio que isso também possa funcionar, mas
reconheço que é consideravelmente mais avançado do que minhas pobres
especulações sobre o assunto em 1951.
Em
geral, minhas melhores previsões são feitas a partir de um palpite, um bom e
sólido palpite. Em minhas histórias sobre robôs, postulei a existência de robôs
tão grandes que se viam reduzidos à imobilidade e não podiam fazer nada além de
pensar e comunicar o resultado desses pensamentos. Um deles apareceu em minha
primeira história sobre robôs. Nas histórias seguintes eu os chamei de
"cérebros"; não me ocorreu chamá-los "computadores".
Meus
robôs, também, tinham "cérebros" que os controlavam, e também nunca
me referi a esses cérebros como "computadores". Tinha que lhes dar
uma denominação que fosse tipicamente de ficção científica, e os chamei de
cérebros positrônicos. Os positrons tinham sido detectados pela primeira vez
apenas quatro anos antes de eu ter escrito minha primeira história de robôs.
Os
positrons se revelaram como partículas fantásticas e nos sugeriam uma série de
visões sobre a "antimatéria". Devido a isso, achei que "cérebros
positrônicos" era uma expressão que soava bem. Tais cérebros não seriam
essencialmente distintos de cérebros eletrônicos, exceto pelo fato de que os
positrons poderiam ser produzidos em cerca de um milionésimo de segundo e logo
aniquilados pelos elétrons que haveria à sua volta independentemente do ponto
da Terra onde ele estivesse. Isso me deu a noção de que os positrons poderiam
ser responsabilizados pela velocidade do pensamento. É verdade que as relações
de energia - a energia necessária para produzir uma quantidade adequada de
positrons ou a energia liberada quando essa quantidade de positrons é destruída
- atingiriam cifras espantosas, numa tal escala que a ideia de cérebros
positrônicos é uma total impossibilidade; mas eu não sabia.
Os
computadores só começaram a aparecer em minhas histórias depois que foram
realmente inventados e o público começou a ter consciência de que eles
existiam; mas mesmo assim não cheguei a imaginar a possibilidade de sua
miniaturização. É claro que me referi a computadores de bolso, mas eu os
visualizava como algo cujas qualidades iriam pouco além das de uma régua de
cálculo.
Depois
de um certo tempo aceitei a ideia da miniaturização - depois que a coisa
começou a acontecer, é claro. Em "A Última Pergunta", iniciei a
história apresentando meu computador de sempre, o Multivac, do tamanho de uma
cidade, porque eu só conseguia imaginar o crescimento dos computadores através
de uma quantidade cada vez maior de tubos de vácuo amontoados em seu interior.
Mas, no transcorrer da história, dei início a um processo de miniaturização, só
que fui muito além do que me parece possível.
Mesmo
assim, creio que os leitores estão sempre dispostos a perdoar quando um pobre
autor de ficção científica vê suas ideias sendo ultrapassadas. Como já falei,
meus livros sobre Lucky Starr não sofreram grandes prejuízos com isso. Para
falar a verdade, A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, ainda é lido com avidez
quase um século depois de sua publicação, a despeito de nos fornecer uma
representação de Marte incrivelmente falsa (falsa em relação ao que sabemos
hoje). O mesmo acontece com a descrição feita por Edgar Rice Burroughs uma
geração depois de Wells, e por Ray Bradbury por volta de 1950, o que não impede
que leiamos com prazer A Princesa de Marte ou As Crônicas Marcianas.
Isto
é porque numa narrativa de ficção científica existe algo mais do que ciência.
Existe a história, e se a ciência ali incluída é superada por novas descobertas
ou distorcida porque o enredo o exige, nossa tendência é compreender, perdoar,
e prosseguir na leitura.
Por
exemplo: no meu conto "A Bola de Bilhar" faço uma bola de bilhar
penetrar numa região do espaço onde ela atinge instantaneamente a velocidade da
luz. Isso é claramente impossível, mas mesmo descontando essa impossibilidade
inicial existe algo mais impossível ainda. A bola de bilhar tem um volume
finito. Partes dela penetram nessa região antes do resto, e essas partes
deveriam atingir instantaneamente a velocidade da luz e se separar do resto. Em
resumo: a bola de bilhar deveria ser reduzida instantaneamente a átomos ou a
partículas ainda menos substanciais, e no entanto, na minha história, a bola
mantém a sua integridade física. Minha consciência doeu, mas deixei que ela
continuasse doendo e fui em frente com a narrativa.
Em
"O Garotinho Feio", utilizo a viagem no tempo, mesmo tendo a firme
convicção de que viagens no tempo são algo impossível. No entanto, resolvi
ignorar isso, porque a história trata do assunto muito ligeiramente; o tema
real da história é o amor.
Também
duvido de que os seres humanos venham a se transformar um dia em vórtices de
energia, embora seja assim que eu os descreva em "O Que os Olhos
Veem". E daí? O tema da história é a beleza das coisas feitas de matéria.
Creio
que vocês já perceberam aonde quero chegar. Ao ler as histórias que se seguem,
talvez encontrem trechos cientificamente incorretos ou tornados incorretos por
descobertas científicas posteriores. Mas, se me escreverem a respeito disso,
por favor digam também se, apesar disso, a história lhes agradou. Talvez não
tenha agradado. Espero que sim.
Mais
uma coisa. Minhas coletâneas de contos geralmente são editadas sem ilustrações,
o que nunca me incomodou, porque não sou muito de visual. Meu mundo é o das
palavras. Não obstante, esta coletânea é ilustrada por Ralph McQuarrie, e devo
admitir que isso contribui de modo incalculável para a beleza do livro e mesmo
para a compreensão das histórias, ao despertar no leitor o estímulo visual mais
adequado. A ilustração de capa - que inspirou o conto "Sonhos de
Robô", escrito para esta coletânea - é belíssima, humaniza um robô de uma
maneira que eu jamais tinha visto antes. Nada disso é surpreendente, uma vez
que Ralph é um dos melhores e mais influentes artistas da ficção científica,
tendo trabalhado em filmes de sucesso como Guerra nas Estrelas e O Império
Contra Ataca. Em 1986 ele ganhou um Oscar pelos efeitos especiais do filme
Cocoon. Fico orgulhoso de tê-lo ao meu lado neste livro.
Isaac Asimov, 1986
***
Tradução: Bráulio Tavares e Anna Beatriz Sach
Editora: Record
Ano de publicação: 1991